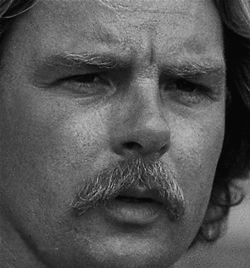
Keke Rosberg, dos destroços ao pódio
Em 1980, quando Wilsinho decidiu manter o piloto da Wolf, Keke Rosberg, um finlandês que também tinha sido piloto da Theodore Racing e da ATS em temporadas anteriores, surpreendeu muita gente. Até Emerson perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo. Wilsinho tinha. Eis a história que ele conta sobre Rosberg e o terceiro lugar conquistado pelo finlandês com o Fitti F-1 no GP da Argentina de 1980:
“Eu queria ter um piloto de alto nível na equipe. Embora o Keke não tivesse grande experiência na F-1, ele era o homem que eu procurava. Nós chegamos para o GP da Argentina e já no primeiro treino ele marcou o ótimo tempo de 1’46″75. Foi dois segundos mais veloz que o Emerson e ficou sempre entre os cinco primeiros do grid. Nada mau para uma estréia, principalmente para quem mal conhecia o carro. Fomos para a segunda sessão de treinos de sexta-feira e ele continuou sendo um dos mais rápidos, mas no final da classificação deu uma baita batida. Destruiu a máquina. Nós tínhamos levado três carros para aquela corrida, por isso entreguei o reserva para o Keke treinar no sábado.
“Mas, como eu era calejado em grandes prêmios, escalei dois mecânicos para desmontar o carro que o Keke tinha destruído. Mandei eles retirarem e revisarem os componentes que estavam bons e separá-los, já que o monocoque tinha entortado e não poderia mais ser usado. Porém havia 80% de partes e peças intactas. Fizemos um exame com uma tinta que detecta trincados e guardamos aquelas partes prontas e limpas para o caso de termos que usá-las nos outros dois carros.

Imagem: acervo família Fittipaldi
“No sábado o Keke Rosberg se classificou bem, com o carro reserva. Lembro que o Emerson me perguntou que motor tinha no carro do Keke e admirou-se quando eu falei que era um igualzinho ao dele. O Emerson insistiu: ‘Tem certeza?’ Claro que eu tinha, mas ele só se convenceu quando eu lhe mostrei as fichas da Cosworth, com o certificado da potência dos motores. Um estava com 492 e o outro com 495 hp, e 3 hp em 490 não significavam nada.
“Concluímos então que o Keke estava forte e que tínhamos dois carros bem preparados para a corrida. Naquela época, porém, havia um treino de 45 minutos no sábado à tarde, e nesse treino o Keke deu outra cacetada forte e destruiu o carro que já era o reserva.
“O Emerson ficou fulo da vida e reclamou: ‘De que adianta ser tão rápido e destruir um carro por dia?’ Mas quem ficou numa situação estranha fui eu. Como já tínhamos desmontado o primeiro carro que o finlandês batera, ou o que tinha sobrado dele, mandei fazer a mesma coisa com o carro reserva. Em seguida, dividi a equipe de mecânicos. Coloquei só dois para a revisão do carro do Emerson, que estava bem, e os outros foram trabalhar nos dois carros batidos, para tentarmos fazer um para o Keke Rosberg.
“Eram cinco horas da tarde em Buenos Aires e, como já sabíamos que iríamos varar a noite trabalhando, eu organizei a empreitada. Avisei o pessoal: ‘Às oito horas tem janta, à meia-noite lanche e às quatro horas da madrugada outro lanche reforçado. Tem chuveiro e toalhas à disposição, no boxe, portanto mãos à obra’.
“O primeiro trabalho foi consertar o segundo chassi que o Keke bateu. Felizmente não tinha entortado. Sofreu apenas um afundamento em cima do tanque de combustível, que foi trazido à forma normal no martelo, mas tivemos que retirar e recolocar o reservatório de gasolina. E, como não foi afetado nenhum ponto sensível do monocoque, pudemos acertar a geometria sem muitas dificuldades e colocá-lo no gabarito.
“Lembro que às 11 horas da noite havia um quebra-cabeça de peças de dois carros espalhado no chão do boxe. Aí partimos para a seleção e ainda usamos as peças de reserva sobressalentes que tínhamos na montagem do terceiro carro para o Keke.
“Foi um esforço brutal, mas às 8h30min do domingo colocamos as rodas no carro e acoplamos o motor. Uma hora antes do warm-up, às 11 horas, fizemos o alinhamento, sem problemas, e botamos o motor para funcionar. Foi aquele ‘ufa’! Agora faltava o Keke ir para a pista. Ele saiu e ficou todo mundo na expectativa, sabendo que teríamos que fazer os acertos complementares para a corrida. Ele deu duas voltas na pista e, mal chegou ao boxe, pulou do carro e foi cumprimentar uma por uma as pessoas que trabalharam naquele protótipo. Depois veio falar comigo e disse: ‘Eu sei a destruição que causei. Fui dormir ontem duvidando que iria correr hoje. O trabalho de vocês foi fantástico. E esse carro em que andei agora está igual ao que pilotei na classificação. Parabéns’.
“Aí tive a certeza de que todo aquele trabalhão que passamos para que o Keke corresse o GP da Argentina motivou muito o finlandês. Tanto que fez uma corrida fabulosa, retribuindo a dedicação da equipe técnica, que colocou na pista um carro feito com as peças retiradas de dois destroços. “O terceiro lugar deu moral ao nosso time. Afinal, chegamos atrás apenas do Alan Jones e do Nélson Piquet, com a Williams e a Brabham, justamente os pilotos e carros que disputaram o campeonato de 1980 – Jones foi o campeão e Piquet o vice. A Fórmula 1 é assim, um trabalho dividido em três partes iguais: a do carro, a da equipe e a do piloto. Nenhuma delas ganha nada sozinha.”
Chico Serra, o último piloto do F-1 brasileiro
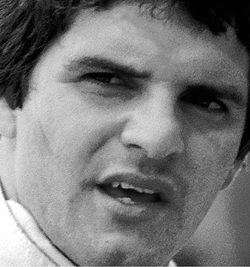
Imagem: acervo Lemyr Martins
Nos 30 anos de carreira de piloto, Chico Serra nunca lutou tanto por décimos de segundo como naquele Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1982. Saiu no braço, subiu nas zebras, passou raspando no guardrail e se arriscou ao máximo para conseguir uma marca abaixo de 1 minuto e 21 segundos, que lhe daria o 26º e último lugar no grid da corrida de Las Vegas, prova que fechava a temporada.
Chico fez tudo o que sabia e extraiu o máximo que o Fittipaldi F-9 podia render. Tornou a classificação uma questão de honra para deixar menos pesarosa a despedida da Fittipaldi Automotive da Fórmula 1, a única equipe brasileira da história do circo. Mas foi impossível. Faltaram míseros 79 milésimos para superar o neófito Tommy Byrne, que alinhou na última posição do grid, com o Theodore-Ford. Chico Serra ficou em 29o e não se classificou para a corrida de despedida, em que ironicamente Keke Rosberg, seu parceiro na Fittipaldi no ano anterior, ratificou seu título mundial, com um mero quinto lugar, a bordo de um Williams.
Naquele domingo de 25 de setembro de 1982, depois de oito anos, terminava a heróica aventura dos irmãos Fittipaldi como construtores na Fórmula 1. Outra ironia: o campeonato fechou com a vitória do italiano Michele Alboreto, num Tyrrell-Ford, carro que Chico desprezou em favor do Fittipaldi, um ano antes.
Francisco Serra (3/2/1957), o Superchico da Stock Cars brasileira, campeão da Fórmula Ford e da F-3 inglesa, foi o último piloto do Fórmula 1 brasileiro. Dos 31 grandes prêmios em que esteve inscrito, disputou 18, não se classificou em 13 e teve três acidentes.
Chico lamenta que a maior parte de sua carreira na F-1 não tenha sido prazerosa. Brigou mais para classificar o carro que para melhorar a posição no grid. Porém admite que valeu pelo que aprendeu com os engenheiros, com a alta competitividade da categoria e também pela projeção que teve em termos do automobilismo brasileiro.
“Não me diverti e também não foi rentável em termos financeiros, mas valeu como aprendizado técnico”, analisa o piloto.
Quando Chico Serra entrou na equipe, em 1981, ela já era Fittipaldi, não tinha mais nada de Copersucar nem de Skol. Começou como parceiro do finlandês Keke Rosberg, porque Emerson já tinha trocado a função de piloto pela de diretor técnico. Antes de optar pela equipe brasileira, Chico também negociou com a Arrows e a Tyrrell. Assinou com a Fittipaldi por acreditar que era a melhor opção. A sede era em Reading, na Inglaterra, e tinha ótimas instalações e muita gente boa. Além de Adrian Newey, que passou à categoria de gênio após projetar os Williams e McLaren campeões nos anos 90, participavam do time Peter Warr, ex-chefe de equipe da Lotus, e Harvey Postlethwaite, um cobrão da aerodinâmica.
Para sustentar esse esquema, a Fittipaldi contava com a possibilidade de um grande patrocínio da Avia, uma companhia de petróleo alemã. Essa receita animou Chico a optar pela Fittipaldi Automotive, desprezando a Tyrrell, que já não era a mesma escuderia dos anos vitoriosos de Jackie Stewart, entre 1970 e 1973.
O contrato de Chico previa que na primeira temporada ele ganharia 30% dos prêmios de chegada e parte do patrocínio que levou (Café do Brasil), e no segundo e terceiro anos teria um salário além dos prêmios. Portanto, teoricamente, estava tudo organizado. Mas o patrocínio da Avia pifou e a equipe não conseguiu outro para substituí-lo. E, se a Fórmula 1 é muito difícil com dinheiro, sem, é impossível.
“Naquela época”, conta o piloto, “as escuderias não tinham os orçamentos desse segundo milênio, que ultrapassam os 300 milhões de dólares anuais. Os grandes pilotos, como Niki Lauda, Alain Prost e Keke Rosberg, não ganhavam mais que dois milhões de dólares por ano. Já em 2002, um piloto médio como Eddie Irvine embolsava 20 milhões de dólares por ano da Jaguar-Ford, fortuna que não era a metade do salário de Michael Schumacher.
Em 1982 a Fittipaldi foi enxugada e só manteve Chico como piloto. Porém, a F-1 vivia uma fase aberta, sem regulamentação para treinos, e as equipes grandes usavam e abusavam dos testes, tornando a vida da equipe brasileira ainda mais difícil. Sem dinheiro para enfrentar outra temporada, a Fittipaldi Automotive fechou, um pouco antes do Natal de 1982, e Chico Serra foi para a Arrows. Mas a chance de pilotar toda a temporada de 1983 dependia de a escuderia não vender o posto a outro piloto que tivesse dinheiro para comprar o lugar. Foi o que aconteceu. O belga Thierry Boutsen trouxe um monte de dólares e tomou o carro do piloto brasileiro. Serra disputou a última corrida na Fórmula 1, no dia 15 de maio, no GP de Mônaco de 1983, na quinta prova da temporada, com o 15o posto no grid e o sétimo na classificação final. “De lembrança, restou o consolo de ter entrado na galeria da F-1 com o suado pontinho do sexto lugar no GP da Bélgica de 1982, com o Fitti F-8D”, conta Chico.



